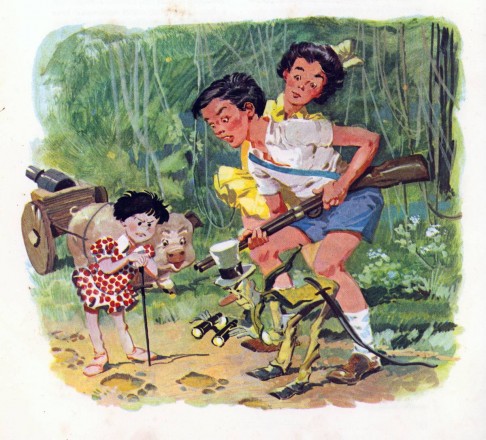Vale a pena conhecer
A tela é do artista plástico Marcos Brasil. Ele vive ou mantém ateliê na Chapada dos Veadeiros, lugar que abriga o Parque Nacional, e que fica há cerca de duas horas e meia da capital do país.
O trabalho dele e de outra artista, Cris Maia, dizem muito o que é a Chapada, um dos lugares mais lindos que conheço desse país extasiante, onde nasci e que amo, apesar de nossas crises de relacionamento.
Vale a pena conhecer não só a Chapada dos Veadeiros, mas também o trabalho do Marcos e da Cris.
Quem é de Brasília, no geral, chega na Chapada de olho fechado. Para quem não é, o caminho é vir até aqui e pegar a BR 020, que vai para o Nordeste. Um trevo não tão distante nos joga na estrada que dá em Alto Paraíso, cidade goiana, porta da Chapada.
Mas melhor é esperar passar o período das chuvas, pois os rios da região ficam perigosos demais por causa das chamadas cabeças d’água, que surgem de repente levando tudo que está pela frente.
A época ideal é entre março e julho, quando a chuva começa a dar trégua e o período mais crítico da seca ainda está relativamente longe.
Com o céu inteiro sobre a cabeça sustentando o sol, as estrelas ou a lua, embrenhe-se na grandeza de um trilha, renda-se à majestade de uma cachoeira.
Você não vai sair de lá do mesmo jeito que chegou, e por mais cético que seja, por um momento vai pensar se esse povo que acredita em fada, duende e gnomo é mesmo tão maluco assim como dizem.